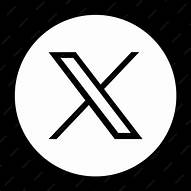A crise internacional que há mais de quatro semanas assola as economias mundiais, com foco nos bancos e bolsas de valores, traz à tona a vulnerabilidade das empresas em situações de crise.
A crise internacional que há mais de quatro semanas assola as economias mundiais, com foco nos bancos e bolsas de valores, traz à tona a vulnerabilidade das empresas em situações de crise.
O problema começou com a crise dos chamados empréstimos hipotecários de risco (subprime) americanos, que não tiveram a cobertura suficiente dos tomadores, porque os imóveis perderam valor e se tornaram impagáveis. Como esses ativos foram negociados entre os bancos, a ciranda virou uma bola de neve que atingiu a todos, tomadores e bancos.
Apenas para recordar, em 14 de setembro, o Bank of America compra o Merrill Lynch e, por falta de socorro do Federal Reserve-FED (o banco central americano), o Lehman Brothers pede falência. Logo em seguida, a AIG, uma das maiores seguradoras do mundo, anuncia que precisa de mais de US$ 80 bilhões para ser saneada.
Foi o sinal para o mercado entrar em pânico e as bolsas sofrerem o chamado efeito “manada”. No dia seguinte, os bancos centrais dos EUA e da Europa injetam US$ 100 bilhões no mercado e as bolsas de valores de todo o mundo têm a maior queda, desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.
No meio desse vendaval, o governo brasileiro desdenhou da crise: “Perguntem ao Bush”, afirmou o presidente da República, ao ser indagado sobre a tempestade. O Ministro da Fazenda, em clima de eleição, também assegurava que o Brasil estava imune à crise: o país se mantém como alternativa favorável, pois o problema é lá, não aqui.
Ele esqueceu que no mundo globalizado o espirro do vizinho contagia todos os parceiros. Não existe crise na economia dos países desenvolvidos que deixe de respingar nos mais pobres.
A primeira constatação feita pelos especialistas, após quatro semanas de pulverização das economias nas bolsas de valores é que o agravamento da crise também se deve à falta de uma liderança. Um fundamento básico na gestão de crises é que elas necessitam de comando, de um líder. O Presidente Bush, se já vinha se enfraquecendo com o atoleiro no Iraque, não teve estatura para comandar a crise global. O mandato não acabou, mas seu governo acabou de fato. Com isso, o primeiro ministro britânico Gordon Brown entrou no vácuo e soube capitalizar uma ação rápida para salvar os bancos ingleses e reduzir o impacto na economia do Reino Unido. Apagado até então, ele acabou renascendo como o novo líder da crise. Mesmo com essa pseudoliderança, o efeito manada ainda continua a fazer vítimas por todo o planeta.
Não foram só os bancos que acusaram o golpe. As empresas de modo geral, particularmente no Brasil, sentem na carne o efeito da crise mundial. Pelo menos três grandes grupos brasileiros tiveram prejuízos bilionários, por terem apostado que o dólar não iria subir tanto. Mas fontes do mercado asseguram que pelo menos 200 outras empresas fizeram apostas iguais e estão no prejuízo. Se deram mal.
Após um mês em que o tema mais recorrente na mídia é a crise mundial, as economias do mundo desenvolvido e emergente começam a fazer as contas. E o resultado é desanimador. Autoridades dos Estados Unidos já admitem que o país está em recessão, o que certamente irá repercutir em todo o mundo. A produção industrial americana caiu 2,8% em setembro, a queda mais acentuada em 34 anos. No Reino Unido, segunda maior economia européia, a taxa de desemprego já está em 5,7%, o maior salto desde 1991. Os desempregados chegam a 1,79 milhão no país.
No Japão, segunda economia mundial, são 2,72 milhões os desempregados, aumento de 9,2% em relação a 2007. Todos os países da Comunidade Européia estão reduzindo a previsão de crescimento. A Alemanha prevê crescimento zero no próximo ano. Vai sobrar para os imigrantes, que vivem de bicos, quase sempre na economia informal.
No Brasil, como sempre, as autoridades econômicas acordaram meio tarde e se deram conta de que fazem parte do mundo globalizado. Quem viu as entrevistas do ministro da Fazenda há um mês e na segunda-feira (13/10) em Washington, poderia apostar que são declarações de pessoas diferentes. Quer dizer, então, que o Brasil não era uma ilha de tranqüilidade como davam a entender as autoridades brasileiras?
Junto com a queda da demanda, existem problemas graves na oferta de crédito. Os bancos, que no exterior foram os mais atingidos pela crise, fecharam as torneiras ou elevaram os juros, o que fez as empresas cortarem investimentos e segurarem o caixa. Ao preferir aplicar em títulos públicos, os bancos brasileiros mostram como estão com medo de arriscar seus capitais em empréstimos que podem não voltar. A liberação dos depósitos compulsórios não representou maior oferta de crédito. Ou seja, a economia brasileira terá extrema dificuldade para crescer nos níveis anteriores. O próprio governo, agora, revê os cálculos e fala em 3,8% a 4% para 2009. Mas economistas de bancos privados brasileiros asseguram que se chegar a 2%, estaremos no lucro.
Há um clima de pessimismo no mundo todo. Os investidores não sabem o que fazer com seus capitais, pois as bolsas pulverizam todos os dias. As empresas seguram os investimentos. O que surpreende, segundo os analistas, é a rapidez com que as empresas não financeiras sentiram o baque. Uma crise ainda restrita aos bancos, de repente atinge todos os segmentos da economia. Estão comprando menos, cancelando viagens, evitando gastar, o que produz um efeito cascata de redução da atividade econômica.
Montadoras desativam turnos, porque a venda de carros caiu mais de 30% nos Estados Unidos. As redes de varejo desde agosto vêm registrando queda de vendas na Europa. “Acho que veremos muitas demissões”, diz um empresário alemão desanimado com o cenário à sua frente. A inflação ao consumidor no Reino Unido atingiu 5,2% em setembro, o maior nível em 16 anos.
E onde estão as agências de risco que anunciavam conceitos AAA para bancos que agora simplesmente desapareceram? É nessa hora que entendemos por que uma Arthur Andersen sumiu do mercado, quando auditava a Enron, num dos maiores escândalos financeiros dos Estados Unidos. Qual o papel das agências de risco, se elas não conseguem prever as crises? Nem dão sinais de alerta?
Por mais que os especialistas recomendem, as empresas nunca estão preparadas para a crise. Muitas foram pegas de surpresa, como no caso das brasileiras que apostaram no câmbio. A pergunta que se faz hoje é por que a crise chegou nesse nível e por que as empresas estavam tão despreparadas para enfrentá-la?
Não há uma explicação razoável. Por muitos anos navegou-se num cenário ameaçador, mas as empresas sempre apostaram na solidez das economias para não criar mecanismos de proteção. Deu no que deu. A palavra crescimento, que foi a tônica dos anos de ouro, principalmente dos países emergentes, cedeu lugar à palavra crise, que aparece agora em 20% das chamadas dos jornais econômicos de todo o mundo.(JJF)